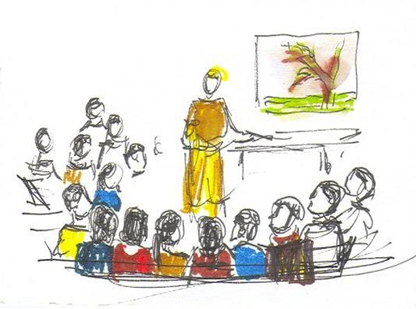No Brasil, a lei n. 9433-1997 propôs gerenciar os múltiplos usos das águas de forma democrática, participativa e descentralizada.
Para tanto, foram criados comitês, consórcios e conselhos de composição diversificada, dos quais participam representantes dos governos, da sociedade civil e de usuários. A lei brasileira prevê que cabe aos comitês e conselhos arbitrar administrativamente os conflitos relacionados aos recursos hídricos e que os planos de recursos hídricos devem identificar os conflitos potenciais. À medida que a demanda por água se acentua, torna-se cada vez mais necessária a gestão colegiada, para evitar que se agravem os conflitos e a violência na apropriação da água.
Os colegiados, quando deliberativos, conferem poder e motivação para a participação dos cidadãos que lhes dedicam tempo voluntariamente.
Nos fóruns colegiados ocorrem visões de mundo e abordagens com uma diversidade de ênfases: desde a visão antropocêntrica, que submete a natureza à espécie humana, até a visão ecocêntrica e biocêntrica, que focaliza como central a preocupação com a estabilidade ecológica e com a biodiversidade. A essas se agrega a visão hidrocêntrica que percebe e compreende as interações na natureza a partir do elemento água.
Os conselhos de recursos hídricos, comitês de bacias e conselhos de proteção ao patrimônio são espaços de aprendizado para o diálogo. Um processo pedagógico de dissolução de desconfianças e estranhamentos mútuos realiza-se neles, em aproximações sucessivas, com ajustes finos e superação de ignorâncias técnicas.
O Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama e o Conselho Nacional de Recursos Hídricos - CNRH, conselhos participativos, aprovaram nos últimos anos inúmeras resoluções que foram fruto desses processos e que deram contribuições relevantes para a gestão. Em 2005, aprovou-se nos dois conselhos a proposta de resolução para articular o licenciamento – um instrumento da política ambiental – com a outorga de direito de uso de recursos hídricos – um instrumento da gestão das águas. Passaram-se quase três anos de discussão para o Conama aprovar a Resolução no. 357/2005, que define normas e padrões de qualidade ambiental para a classificação de corpos d’água e as diretrizes ambientais para o seu enquadramento. Manifestaram-se na ocasião várias formações técnicas e jurídicas e as divergências cederam lugar a convergências. As resistências à mudança, incompreensões, idas e vindas, os ritmos diferentes num e noutro conselho, as discussões em grupos de trabalho e nas câmaras técnicas evidenciam que existe uma distância entre a formação do gestor ambiental e a do gestor de recursos hídricos, que precisa ser transposta.
Um colegiado como o comitê de bacia tem poder de pressão. O colegiado é uma alavanca que facilita que os processos avancem, quando cada um faz a sua parte e estimula que os demais também o façam. Por meio da negociação, da mediação e da arbitragem, da participação pública e da construção de consensos é possível alcançar soluções sem a necessidade de se recorrer a ações judiciais.
Entretanto, com o tempo, alguns atores aprendem a controlá-los em seu benefício, ocupam espaços nas representações e os colegiados perdem representatividade e legitimidade. Suas decisões passam a ser contestadas e recorre-se à justiça para neutralizá-las. Na vida real os críticos dos comitês e agências de bacias denunciam que os colegiados são frequentemente capturados pelo empresariado com a conivência do poder do estado, atores que têm maior poder econômico, político e de informação. Eles formam maiorias para aprovar medidas e resoluções que atendam seus interesses, nem sempre alinhados com o interesse público e coletivo. Os colegiados tornam-se teatros em que a sociedade civil fica em minoria e não tem poder de influenciar nas decisões.
Para preservar sua legitimidade e aceitação social, os colegiados precisam manter uma postura equidistante e isenta diante de interesses particularistas e focar no interesse público e coletivo, no intuito de fortalecer a justiça das águas.
Em outros modos de pactuação colegiada, como por exemplo nas alocações negociadas de água ou nas salas de crise, quando os diversos interesses estão bem representados e há uma base sólida de dados e informações de qualidade, as decisões são tomadas com participação social democrática, com conhecimento e se possível com sabedoria, em benefício de todos.